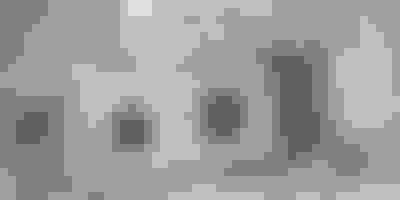Ao mesmo tempo que COP30 em Belém debaterá o futuro da Amazônia, um desafio paralelo — tão urgente quanto invisível — se intensifica no Nordeste: o avanço da desertificação, a escassez hídrica e a ameaça a 27 milhões de pessoas.
Crise silenciosa: quando o chão vira areia
O semiárido nordestino é um dos ecossistemas mais sensíveis às mudanças climáticas. 13% de seu território já virou deserto, segundo estimativas do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens e Satélites (Lapis), ligado à Universidade Federal de Alagoas (Ufal).
A desertificação, porém, não é um fenômeno isolado: avança junto com secas crônicas que duram anos, como a que castigou a região entre 2012 e 2017, levando mais de 1.400 municípios do Nordeste a decretarem emergência, afetando 33,4 milhões de pessoas e causando um prejuízo de mais de R$ 150 bilhões.

O processo é cruel e silencioso. O solo, sem vegetação nativa da Caatinga para protegê-lo, perde nutrientes e se torna estéril. O vento carrega a camada fértil, e a terra vira areia, em um processo às vezes irreversível.
Mas se há uma lição que o sertão ensina, é que a crise não precisa ser o fim da história.
Sertão: modelo de adaptação climática
E é por isso que essa região apresenta um currículo prático de resiliência e adaptação climática, fruto das comunidades que fazem do sertão um espaço de resistência e experimentação. É uma prova que a adaptação não é sobre tecnologia de ponta, mas sobre inteligência coletiva.
No centro dos desafios climáticos, os pequenos agricultores reinventam o manejo. Os sistemas agroflorestais são um exemplo: combinam espécies nativas da Caatinga, como o umbuzeiro — que frutifica mesmo na estiagem —, com cultivos de ciclo curto, como feijão e milho. A palma forrageira, símbolo da resistência sertaneja, é integrada ao sistema para alimentar animais e proteger o solo da erosão.
Completando o mosaico, barragens subterrâneas captam água da chuva e a armazenam no subsolo, mantendo a umidade para as raízes. Cordões de contorno, conhecidas também como cercas-vivas, seguram a terra e impedem o carregamento de nutrientes pelo vento, além de aumentar a diversidade vegetal das áreas cultivadas.
Resultado dessas intervenções de custo relativamente baixo? Solo fértil, biodiversidade preservada e colheitas mesmo em anos de chuva irregular.
Enquanto isso, comunidades locais preservam bancos de sementes crioulas — variedades adaptadas ao clima árido por gerações — para garantir a soberania alimentar e a diversidade genética das plantas.
O Polo da Borborema é um exemplo de sucesso. Desde 1998, agricultoras e agricultores, articulados por sindicatos rurais e redes como a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), trabalham para garantir que variedades como o milho raça, o feijão macassar e outras culturas adaptadas ao clima árido não desapareçam.

O Flocão da Paixão, produto dessa trajetória, nasceu de um sonho coletivo: transformar o milho crioulo em um alimento acessível. Após anos de experimentação e troca de conhecimento com cooperativas e organizações de outros estados do Brasil, as famílias da Borborema passaram a processar o milho em um flocão que mantém a identidade do cuscuz nordestino, mas livre de transgênicos e agrotóxicos. Em 2020, mais de 72 toneladas de milho foram colhidas, produção abastecida por 60 bancos comunitários de sementes que preservam mais de 30 variedades adaptadas. No total, mais de 400 famílias participam ativamente da rede.
O caso do Flocão da Paixão não é apenas uma história de sucesso local. É uma amostra de que a justiça climática se constrói a partir do chão, combinando tradição e inovação. Enquanto a COP30 debate metas globais e financiamentos bilionários, o semiárido prova que soluções efetivas muitas vezes nascem da escuta ativa às comunidades que há séculos convivem com a adversidade. A pergunta que fica é: como transformar essas experiências locais em políticas públicas escaláveis, dentro e fora do Brasil?
A resposta pode estar no reconhecimento de que a adaptação climática não é um projeto técnico, mas político. Envolve redistribuir poder, recursos e voz aos territórios mais vulneráveis. Enquanto países ricos investem em geoengenharia ou captura de carbono, o sertão mostra que a verdadeira revolução está na democratização do conhecimento e no acesso à tecnologia. E essas citadas não são apenas técnicas de sustentabilidade — são ferramentas de soberania.
COP30: Uma chance para reescrever o futuro
A escolha de Belém como sede da COP30 coloca o Norte do Brasil no radar mundial, mas não podemos repetir o erro de reduzir a pauta climática à Amazônia. Enquanto florestas tropicais dominam o imaginário ambiental, as terras áridas — que já cobrem 45% da superfície terrestre — seguem negligenciadas, mesmo abrigando um terço da biodiversidade mundial.
Para mudar esse cenário, a conferência precisa ser um palco de vozes diversas. Imagine lideranças comunitárias dividindo mesas com cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, mostrando que a convivência com o clima não é uma utopia, mas uma prática cotidiana. Imagine metas de adaptação baseadas em indicadores reais: número de cisternas construídas, hectares recuperados com agrofloresta, variedades de sementes preservadas. São números que não aparecem em relatórios corporativos de ESG, mas salvam vidas.
Enquanto o mundo busca por modelos de adaptação climática, o nosso semiárido oferece um caminho: investir nas pessoas, não apenas em tecnologias. A COP30 será um sucesso não se anunciar metas abstratas, mas se reconhecer que o futuro do clima já está sendo escrito pelas mãos de quem nunca deixou de dialogar com o clima. O sertão não pede salvadores — pede parceria. E, nesse diálogo, talvez esteja a chave para evitar que o planeta inteiro vire um deserto.